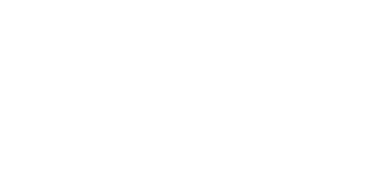O debate sobre a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas tem ganhado destaque crescente no país, especialmente diante da expansão territorial e operacional de grupos como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) (G1, 2025; MANFRIN, 2024). Essa discussão envolve não apenas questões jurídicas e acadêmicas relativas ao conceito de terrorismo, mas também dilemas estratégicos e institucionais sobre segurança pública, direitos humanos e cooperação internacional.
O ponto inicial inevitável do debate é o problema conceitual do terrorismo. Embora seja amplamente estudado, o terrorismo carece de uma definição universalmente aceita. De acordo com Weinberg, Pedahzur e Hirsch-Hoefler (2004), apesar dos inúmeros esforços doutrinários, a definição de terrorismo permanece elusiva, sobretudo em razão de seu uso político estratégico. Nesse cenário, uma das tentativas mais reconhecidas de alcançar uma definição consensual foi proposta por Alex Schmid, que, a partir da análise de 109 definições acadêmicas, estabeleceu 22 elementos centrais ao conceito. Esses elementos incluem, entre outros, o uso ou ameaça de violência, a intencionalidade política, o direcionamento contra civis ou não combatentes, e a tentativa de provocar medo com fins de coerção (SCHMID, 2004). A ausência de consenso gera dificuldades práticas e jurídicas, especialmente para países como o Brasil, cuja legislação antiterrorista (Lei nº 13.260/2016) prevê motivações específicas (xenofobia, discriminação, preconceitos raciais, religiosos ou étnicos) e afasta explicitamente a finalidade política do conceito de terrorismo.
Tal limitação torna o debate sobre classificar ou não facções como o PCC e CV especialmente complexo. Desde sua gênese, o PCC utilizava expressões como “Paz, Justiça e Liberdade” ou “igualdade e união”, como base ideológica para legitimar suas ações e consolidar poder nas prisões e periferias urbanas. A estruturação do grupo em “sintonias” e a criação de normas rígidas de comportamento indicam uma orientação ideológica organizada ao redor desses princípios que norteiam as ações do grupo (MANSO; DIAS, 2018, pp. 9-10). Atualmente, entretanto, com a profissionalização do crime, esses ideais foram diluídos. O comportamento das facções, porém, inclui claramente a prática sistemática de atos violentos contra agentes do Estado e civis para alcançar objetivos estratégicos claros, como o controle territorial e a intimidação coletiva (MANFRIN, 2024). Ataques coordenados contra ônibus, prédios públicos, forças policiais e civis, realizados para impor sua autoridade territorial ou retaliar ações do Estado, possuem um caráter de terror social evidente, que não deve ser desconsiderado.
Outro fator relevante é a crescente convergência entre organizações terroristas e grupos criminosos transnacionais, que tem desafiado paradigmas tradicionais de segurança. Esse fenômeno, descrito na literatura como “nexo crime-terror”, expressa-se na cooptação mútua de métodos, rotas, estruturas financeiras e zonas de influência por atores que, embora distintos em suas motivações originais, compartilham objetivos operacionais cada vez mais semelhantes (LEVITT, 2024). Em contextos periféricos ou institucionalmente frágeis, como partes da América Latina, incluída a Tríplice Fronteira Sul – Brasil, Argentina e Paraguai -, a sobreposição entre criminalidade organizada e terrorismo torna-se particularmente evidente (SINGH; LASMAR, 2024).
A ausência de mecanismos nacionais eficazes de classificação e repressão desses grupos híbridos poderia tornar o Brasil um ambiente permissivo a tais organizações, enfraquecendo a segurança regional. Entretanto, reconhecer a relevância operacional do nexo crime-terror não implica automaticamente que todas as redes criminosas devam ser classificadas como terroristas, exigindo critérios claros e mecanismos institucionais sólidos.
Experiências internacionais fornecem lições importantes nesse debate. Os Estados Unidos adotaram uma definição ampla de terrorismo, permitindo ao Departamento de Estado classificar organizações criminosas transnacionais como terroristas com base em critérios como impacto na segurança nacional, independentemente de motivações ideológicas clássicas (UNITED STATES, 2024). Essa abordagem oferece flexibilidade operacional, permitindo bloqueio de ativos, sanções internacionais e cooperação transnacional robusta. Entretanto, ela traz riscos diplomáticos e jurídicos significativos, especialmente relacionados a abusos na aplicação da lei antiterrorismo e questionamentos internacionais. Em contrapartida, o Reino Unido mantém uma abordagem mais restrita, exigindo explicitamente a motivação política, religiosa ou ideológica como elemento essencial para classificação terrorista (UNITED KINGDOM, 2024). Grupos criminosos sem essas características são enfrentados exclusivamente com legislação penal contra o crime organizado. Já países como México e Colômbia, embora enfrentem graves problemas com facções criminosas, resistiram a classificar seus cartéis e grupos criminosos como terroristas, preferindo lidar com o fenômeno dentro dos marcos tradicionais da segurança pública e cooperação internacional, ainda que usando táticas típicas do contraterrorismo, como operações militares e inteligência integrada.
Esses exemplos internacionais mostram que não há um modelo ideal único. Embora a classificação de facções brasileiras como terroristas possa trazer um efeito simbólico relevante, reforçando a autoridade do Estado e deslegitimando socialmente esses grupos criminosos, os riscos também são elevados. Do ponto de vista diplomático e econômico, o Brasil poderia enfrentar repercussões negativas na imagem internacional, com eventuais consequências adversas em investimentos externos e relações diplomáticas. Sob o aspecto prático, as investigações contra esses grupos precisariam ser deslocadas da justiça estadual para o âmbito federal, onde tramitam as ações que tratam da lei antiterrorismo, dificultando o aproveitamento da expertise acumulada pelos órgãos estaduais ao longo de décadas de enfrentamento especializado.
O contexto desafiador demanda uma resposta institucional pragmática e operacional por parte do Brasil. Mais do que classificar como terroristas as ações de grupos criminosos organizados, é adequada uma classificação intermediária que se atente às características deste fenômeno criminal e que permita o uso das eficazes ferramentas antiterrorismo, sem necessariamente enquadrar formalmente os grupos como terroristas.
Isso exige, além da extensão do sistema de designações da Lei 13.810/2019, a previsão legal de tipos penais específicos e dotados de penas severas, capazes de abranger condutas em que a violência seja empregada com o propósito de intimidar coletivamente a população, afirmar domínio territorial ou coagir órgãos do Estado a modificar políticas públicas, decisões administrativas ou judiciais. Essas condutas devem ser rigorosamente punidas, especialmente quando envolvam táticas tipicamente terroristas, como atentados contra agentes públicos, sabotagem de serviços essenciais, destruição de bens públicos, uso de armamento de guerra ou ameaça sistemática à integridade de comunidades civis. Também se mostra indispensável prever a punição dos atos preparatórios, diante do elevado risco e do impacto imediato decorrente do simples início da execução de ações dessa natureza.
Além disso, inspirando-se em modelos internacionais bem-sucedidos — como as unidades interagências especializadas adotadas na Europa e Estados Unidos — o país deveria investir na criação de estruturas especializadas de inteligência, investigação financeira e operacional integradas, de alcance nacional. Tais medidas não exigem necessariamente a classificação jurídica das facções como terroristas e permitirão enfrentar com eficácia as ameaças híbridas que escapam às categorias jurídicas tradicionais.
Uma resposta estatal adequada vai muito além de rótulos que, por si, pouco se traduzem em efetividade; implica compreender a dinâmica contemporânea do crime organizado, que cada vez mais adota estratégias similares às utilizadas por grupos terroristas.
É necessário também rever de forma crítica a postura recente adotada pelo governo brasileiro no contexto internacional, recusando-se a reconhecer explicitamente a convergência entre o crime organizado transnacional e o terrorismo na América Latina (FOLHA, 2025). Tal negativa evidencia uma compreensão limitada sobre o fenômeno e compromete a eficácia das políticas nacionais e internacionais voltadas para a segurança pública e a proteção das sociedades contra ameaças cada vez mais complexas. Além disso, gera desgaste reputacional e diplomático, reduzindo a cooperação internacional e denota defasagem nas estratégias preventivas, tornando o Brasil vulnerável à infiltração de organizações híbridas e sugerindo que o país é em porto seguro para a atuação desses grupos.
O Estado brasileiro já negligenciou por muito tempo a atuação do crime organizado, o que permitiu a exportação dessa ameaça para a América do Sul e para o mundo (O Antagonista, 2025). Com ou sem o rótulo de terrorismo, é preciso levar a sério o compromisso ético e constitucional do Estado em assegurar segurança e dignidade ao povo brasileiro, especialmente às comunidades vulneráveis afetadas pelas facções.
Referências:
BRASIL. Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. Define os crimes de terrorismo e dispõe sobre procedimentos investigatórios e meios de obtenção de prova. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 mar. 2016.
BRASIL. Lei nº 13.810, de 8 de março de 2019. Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e sobre a designação nacional de pessoas e entidades investigadas ou acusadas de terrorismo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 mar. 2019. Edição Extra.
FOLHA DE SÃO PAULO. Itamaraty atuou para não enquadrar facções como terroristas em acordo internacional de segurança. Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 jun. 2025. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2025/06/itamaraty-atuou-para-nao-enquadrar-faccoes-como-terroristas-em-acordo-internacional-de-seguranca.shtml. Acesso em: 25 jul. 2025.
LEVITT, Matthew. Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God. 2. ed. Washington, DC: The Washington Institute, 2024.
MANSO, Bruno Paes; DIAS, Camila Nunes. A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. São Paulo: Todavia, 2018.
O ANTAGONISTA. Milei alerta sobre avanço de PCC e CV no Mercosul. O Antagonista, 3 jul. 2025. Disponível em: https://oantagonista.com.br/mundo/milei-alerta-sobre-avanco-de-pcc-e-cv-no-mercosul/. Acesso em: 25 jul. 2025.
SCHMID, Alex P. Frameworks for conceptualising terrorism. Terrorism and Political Violence, v. 16, n. 2, p. 197–221, 2004.
SCHMID, Alex P. (ed.). The Routledge Handbook of Terrorism Research. London: Routledge, 2011. cap. 1, 2, 4 e 8.
SINGH, Rashmi; LASMAR, Jorge M. From Waltz to Chaos: How to Think about Transnational Illicit Flows Using Complex Adaptive Systems. Estudos Internacionais, Belo Horizonte, v. 21, n. 1, p. 100–117, abr. 2024. Disponível em: https://periodicos.pucminas.br/estudosinternacionais/article/view/33622/23506. Acesso em: 24 jul. 2025.
UNITED KINGDOM. Terrorism Act 2000. United Kingdom Parliament. Disponível em: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents. Acesso em: 22 jul. 2025.
UNITED NATIONS INTERREGIONAL CRIME AND JUSTICE RESEARCH INSTITUTE (UNICRI). The Nexus between Transnational Organized Crime and Terrorism in Latin America. Geneva: UNICRI; Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2024. Disponível em: https://unicri.it/publications/nexus-latin-america. Acesso em: 22 jul. 2025.
UNITED STATES. Foreign Terrorist Organizations (FTOs). U.S. Department of State. Disponível em: https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/. Acesso em: 22 jul. 2025.
WEINBERG, Leonard; PEDAHZUR, Ami; HIRSCH-HOEFLER, Sivan. The challenges of conceptualising terrorism. Terrorism and Political Violence, v. 16, n. 4, p. 777–794, 2004.
G1. PCC tem mais de 2 mil integrantes espalhados pelo mundo; a maioria em presídios. G1, São Paulo, 25 jun. 2025. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/06/25/pcc-tem-mais-de-2-mil-integrantes-espalhados-pelo-mundo-a-maioria-em-presidios-veja-paises.ghtml . Acesso em: 20 jul. 2025.
MANFRIN, Juliet. Crime organizado: 23 milhões de pessoas estão em áreas dominadas por 72 facções e milícias. Gazeta do Povo, Curitiba, 30 dez. 2024. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/crime-organizado-23-milhoes-de-pessoas-estao-em-areas-dominadas-por-72-faccoes-e-milicias/ . Acesso em: 20 jul. 2025.